Pérolas Amargas (1ª parte)
O
barulho cadenciado da máquina a vapor de tripla expansão adormecia-lhes
os sentidos. O barulho e os tragos de aguardente que tinham embarcado
discretamente em Buenos Aires, no estuário do Rio da Prata onde tinham recebido os sacos de milho, que enchiam os porões do cargueiro inglês.
A
viagem começara com bom tempo, Janeiro era mês de Verão nos mares do
sul e tinham apanhado uma verdadeira calmaria até à escala de
reabastecimento na ilha do Sal, em Cabo Verde. Uma escala rápida, apenas vinte e quatro horas para encher as tulhas de carvão e os depósitos de água.
Já
tinham deixado a Madeira para trás e passavam agora ao largo do Cabo de
S. Vicente quando o barómetro começou a cair como uma pedra. O Capitão
Jones resmungou uma praga e bateu com os nós dos dedos no mostrador
redondo do aparelho, como que a certificar-se do seu bom funcionamento. A
oeste, no horizonte, uma estreita faixa cinzenta reflectia sobre as
águas azuis uma mancha baça que ia crescendo a cada hora que passava.
-
Vamos apanhar borrasca na costa de Portugal, capitão? – pergunta o
imediato Sullivan, um galês trigueiro, alto e magro que tinha de se
curvar ao passar nas portas do navio.
- Parece que sim… Vá lá abaixo e diga ao chefe que dê o que puder na máquina… A ver se chegamos a Vigo sem levar muito…
Na
sala da máquina o calor era infernal, os maquinistas de almotolia em
punho lubrificavam bielas e chumaceiras, enquanto os fogueiros se
afadigavam a alimentar a fornalha da caldeira. Ao escutar as novas
ordens, o grego que superintendia a maquinaria encolheu os ombros e
aumentou dois pontos à pressão da máquina, perante o olhar furibundo dos
fogueiros que adivinharam um ritmo maior de trabalho. Um deles não se
inibiu de escarrar e bater ostensivamente com um pé no chão metálico e
fuliginoso como que a discordar da opção do chefe.
Durante
a noite, empurrado pelo vento, o mar ia aumentando, tinha já vaga de
quatro metros, nada que assustasse estes marinheiros confiantes na
experiencia de muitas viagens, confiantes na robustez do “Antinous”,
construído quinze anos antes nos estaleiros Thompson, R. de Southwick,
na Inglaterra.
De
manhã, o Capitão Jones tinha os olhos vermelhos da falta de descanso e
dos inúmeros grogues feitos à base de aguardente argentina, bem melhor
que a cachaça de cana brasileira.
Da
máquina viera a informação que tinham de reduzir drasticamente o
andamento porque uma válvula de retorno não funcionava convenientemente.
Uma ladainha de pragas e mais um gole na caneca de alumínio foi a
resposta eloquente do capitão, que deitou uma olhada ao mapa estendido
sobre a mesa na salinha anexa à ponte de comando.
A
meio da tarde a chuva que até aí se fizera sentir ligeira, aumentou de
intensidade fustigando impiedosamente as chapas metálicas do “Antinous”.
A visibilidade ficou reduzida a poucas dezenas de metros e um
marinheiro foi guarnecer o sino de bronze que repicava a cada trinta
segundos.
Os
homens que não estavam de serviço deixavam-se ficar nos catres,
acabrunhados com a tempestade que tanto elevava como afundava o navio
nas ondas coroadas de alva espuma. As chapas rangiam e qualquer novato
se atemorizaria com este som lugrebe. Mas não estes, que já tinham
passado por muitas tempestades de meter medo. Apenas se aborreciam
porque não conseguiam dormir com o balanço, com o barulho da máquina, da
chuva e do sino, uma combinação infernal, mesmo para quem fazia do mar a
sua casa.
O
telegrafista entregou ao capitão uma mensagem proveniente do Comando
Naval, a informar que as barras de Portugal estavam encerradas, excepto
Lisboa e Setúbal. A mensagem terminava com a informação que o mau tempo
se iria manter por mais vinte e quatro horas.
Amarrotou
impaciente o bilhete e pensou que teria de seguir em frente até ao
destino, abandonando em definitivo a ideia de se abrigar na barra do
Douro, apesar do perigo que constituía a sua entrada com mar grosso.
- Vamos para as Rias… Merda de país, que nem um porto de abrigo tem…
Deixou-se
cair exausto no seu cadeirão ainda com o aviso telegrafado na mão. O
Imediato Sullivan pigarreou e quando o capitão levantou a cabeça
disse-lhe:
- Porque é que não vai descansar uma ou duas horas, senhor? Eu fico aqui e se houver algum problema chamo-o…
-
Não, Senhor Sullivan… é meu dever estar ao comando. Vou sentar-me aqui
um bocado… isso basta-me. Envie um marinheiro à cozinha para me trazer
alguma coisa de comer… e de beber.
As
horas passaram, o mar continuava grosso e a chuva caía com abundância,
como nunca se viu em terra firme. Entre períodos de modorra e espertina,
o Capitão Jones manteve-se no cadeirão de comando instalado na ponte,
mesmo ao lado da enorme roda do leme. A noite cerrou-se e um clarão
fugaz adivinhava-se, mais do que se via, a leste, entre a cortina de
chuva que nada fazia abrandar.
- Capitão… senhor – chamou o imediato – vê-se um clarão a estibordo… certamente um farol.
O
Capitão Jones aguardou alguns minutos com a cabeça encostada ao vidro
de uma janela lateral da ponte, com as mãos a fazerem uma concha junto
aos olhos. Debruçou-se sobre o mapa e apontou para um ponto na costa
portuguesa e correu o dedo até outro ponto. Abriu o compasso, mediu na
escala, calculou mentalmente o tempo que demoraria a travessia e
concluiu:
-
Três horas… Daqui a três horas temos abrigo. Marinheiros, olhos bem
abertos ao próximo farol… e quero o sineiro a tocar como um homem…
parece um rabeta a fazer-lhe cócegas…
(continua)
Pérolas amargas (2ª parte)
O farol tornou-se visível mais cedo
que as contas feitas pelo capitão, que atribuiu este desfasamento a um
amainar do vento e da ondulação, com consequente aumento da velocidade
do barco.
- Ilhas Cies à vista, rumo 075, máquina devagar à vante…
- Não se vê nada, senhor. Não seria melhor esperar pela manhã?
- Quantas vezes entrou no porto de Vigo, imediato?
- É a segunda vez…
- Pois eu já aqui entrei mais de vinte… mais de trinta vezes. Quando se atinge aquele farol, o das ilhas Cies, muda-se de rumo, cruzamos devagar e fundeamos aqui – bateu com dedo grosso sobre o mapa – e esperamos piloto para atracar. Menos máquina… menos máquina, pode estar outro barco aí à frente…
O cargueiro deu de bordo à luz bruxuleante do pequeno farol e avançou decidido a entrar nas águas remansosas da Ria de Vigo.
- Marinheiro, largue a sonda… só para verificar…
- Senhor capitão, só temos quatro braças…
- Você está bêbado… meça outra vez.
- A diminuir para três… vamos encalhar.
- Não pode ser… máquina à ré, toda a força – berra o capitão, branco como a cal.
- Máquina à ré… tudo à ré…
A máquina calou-se por instantes e logo se voltaram a ouvir as bielas e cambotas a empurradas violentamente pelo vapor que silvava nos escapes.
Outro barulho se começou a ouvir, primeiro parecia distante, surdo, como se alguém estivesse a arranhar uma chapa para os lados da proa. Em crescendo, o barulho era agora seguido do estremecer de toda a estrutura. Os homens pararam com o trabalho para melhor perceberem o que acontecia. Alguém gritou “encalhamos” e todos se atropelavam para subir ao convés.
- Mais máquina à ré – berrava o capitão.
Ninguém lhe fez caso, todos estavam mais preocupados com as condições do encalhe e o perigo que daí advinha do que nas tentativas desesperadas do capitão em safar o barco. Todos sabiam que um navio quando encalha não sai pelos próprios meios e mesmo com ajuda, raramente se salva.
O “Antinous” estava agora imóvel e da ponte podiam apreciar o mar que rebentava de ambos os bordos do navio. Tinham encalhado sobre um seco de areia, não tinham encontrado pedra, não se ouvira o barulho aterrador da chapa a ser retalhada pelos dentes de granito, o terror, o pesadelo de qualquer marinheiro.
Sentiam-se encurralados mas conscientes que não corriam perigo imediato. As vagas começavam agora a fustigar a popa do navio imóvel. A bombordo continuavam a ver a pequena luz do farol que o capitão Jones tinha tomado por as Ilhas Cies.
Da asa da ponte um dos marinheiros disparou um very light alaranjado que bailou agitado ao vendaval de sudoeste. Ao segundo foguete de sinalização pareceu-lhes ver uma barreira de areia baixa pela proa do vapor.
- Costa Galega não é - resmungou o capitão, que transpirava abundantemente apesar do frio que se fazia sentir.
- Estamos certamente na barra do Rio Lima…
- Não pode ser, senhor Sullivan. Aquele farol é o de uma ilhota, a Ínsua, à entrada do Rio Minho… à nossa frente temos uma praia… temos de esperar auxílio.
Pequenas lanternas bruxuleantes viam-se em movimento pela praia, certamente gente que se tinha apercebido do naufrágio e que, movidos pela curiosidade, tinham descido desde as suas casas, indiferentes à invernia.
Quando o dia clareou surgiu do estuário do rio uma velha canhoneira vomitando fumo pela alta chaminé, chapinhando as rodas laterais nas águas ainda agitadas da foz. Várias manobras de aproximação foram ensaiadas e outras tantas abortadas pelo perigo de um segundo naufrágio. Já a manhã estava avançada quando se avistou a sul um rolo de fumo que rapidamente se aproximou e fácil foi distinguir a silhueta baixa e forte de um rebocador saído a toda a máquina do porto de Viana.
O “Antinous” continuava bem preso no banco de areia, perdido no extenso areal da praia de Moledo a cerca de cento e cinquenta metros da linha de praia mar. Cabos foram lançados pelo rebocador, as manobras duraram toda a tarde e os resultados foram nulos. Ao cair da noite aproveitando um período de acalmia e a viragem da maré, um dos escaleres do navio foi areado e parte da tripulação remou vigorosamente até à praia onde foi recebida com manifestações de carinho pelos populares, que os presenteavam com abundantes porções de bagaço retemperador de frios e emoções.
Durante a noite, o “Antinous” abriu água à ré e de manhã o capitão deu ordem de embarque aos tripulantes que tinham ficado a bordo, depois de desligarem a máquina e ter arrecadado as papeladas do cofre. Desta vez não remaram para terra, mas ao encontro do “Rio Minho” a canhoneira da marinha, representante da autoridade no local, que abrigada pela penedia da Ínsua se mantinha vigilante.
Nessa noite o mar cresceu e na manhã seguinte as águas tingiram-se de amarelo quando o milho arrecadado nos porões rebentados se soltou e vogou ao sabor das correntes.
A Guarda-fiscal ainda tentou impedir o povo de carregar o milho que em vagas sucessivas salpicava a fina areia de Moledo. Em breve a mancha amarela invadia outras praias, Âncora, Afife e Montedor. Destas freguesias surgiam carros de bois e grupos de mulheres que, de cesto de vime à cabeça, gratavam as pérolas douradas que o mar oferecia.
O “Antinous” não mais saiu de Moledo. Foi-se enterrando na areia sempre em movimento no canal entre a ilha da Ínsua e o Bico da Ruiva. Enterrou-se até ficar apenas com a chaminé fora da mortalha arenosa. Onde outrora saía fumo, passaram a viver mexilhões, indiferentes ao passado metálico do alojamento.
Os náufragos foram repatriados e poucas semanas depois já navegavam em outros navios, em outros mares, com mais uma história para contar aos novos camaradas.
O povo que diligentemente tinha recolhido tantas arrobas de milho, amaldiçoou a hora em que tinham encetado tão árdua tarefa, pois o milho grelou e apodreceu depois do contacto prolongado com a água do mar.
Hoje em dia a chaminé do “Antinous” continua erguida, despontando na areia durante a baixa-mar, testemunha solitária e silenciosa, respeitada por pescadores e outros navegantes que se esforçam todos os dias por não errarem o rumo.
Fim
- Ilhas Cies à vista, rumo 075, máquina devagar à vante…
- Não se vê nada, senhor. Não seria melhor esperar pela manhã?
- Quantas vezes entrou no porto de Vigo, imediato?
- É a segunda vez…
- Pois eu já aqui entrei mais de vinte… mais de trinta vezes. Quando se atinge aquele farol, o das ilhas Cies, muda-se de rumo, cruzamos devagar e fundeamos aqui – bateu com dedo grosso sobre o mapa – e esperamos piloto para atracar. Menos máquina… menos máquina, pode estar outro barco aí à frente…
O cargueiro deu de bordo à luz bruxuleante do pequeno farol e avançou decidido a entrar nas águas remansosas da Ria de Vigo.
- Marinheiro, largue a sonda… só para verificar…
- Senhor capitão, só temos quatro braças…
- Você está bêbado… meça outra vez.
- A diminuir para três… vamos encalhar.
- Não pode ser… máquina à ré, toda a força – berra o capitão, branco como a cal.
- Máquina à ré… tudo à ré…
A máquina calou-se por instantes e logo se voltaram a ouvir as bielas e cambotas a empurradas violentamente pelo vapor que silvava nos escapes.
Outro barulho se começou a ouvir, primeiro parecia distante, surdo, como se alguém estivesse a arranhar uma chapa para os lados da proa. Em crescendo, o barulho era agora seguido do estremecer de toda a estrutura. Os homens pararam com o trabalho para melhor perceberem o que acontecia. Alguém gritou “encalhamos” e todos se atropelavam para subir ao convés.
- Mais máquina à ré – berrava o capitão.
Ninguém lhe fez caso, todos estavam mais preocupados com as condições do encalhe e o perigo que daí advinha do que nas tentativas desesperadas do capitão em safar o barco. Todos sabiam que um navio quando encalha não sai pelos próprios meios e mesmo com ajuda, raramente se salva.
O “Antinous” estava agora imóvel e da ponte podiam apreciar o mar que rebentava de ambos os bordos do navio. Tinham encalhado sobre um seco de areia, não tinham encontrado pedra, não se ouvira o barulho aterrador da chapa a ser retalhada pelos dentes de granito, o terror, o pesadelo de qualquer marinheiro.
Sentiam-se encurralados mas conscientes que não corriam perigo imediato. As vagas começavam agora a fustigar a popa do navio imóvel. A bombordo continuavam a ver a pequena luz do farol que o capitão Jones tinha tomado por as Ilhas Cies.
Da asa da ponte um dos marinheiros disparou um very light alaranjado que bailou agitado ao vendaval de sudoeste. Ao segundo foguete de sinalização pareceu-lhes ver uma barreira de areia baixa pela proa do vapor.
- Costa Galega não é - resmungou o capitão, que transpirava abundantemente apesar do frio que se fazia sentir.
- Estamos certamente na barra do Rio Lima…
- Não pode ser, senhor Sullivan. Aquele farol é o de uma ilhota, a Ínsua, à entrada do Rio Minho… à nossa frente temos uma praia… temos de esperar auxílio.
Pequenas lanternas bruxuleantes viam-se em movimento pela praia, certamente gente que se tinha apercebido do naufrágio e que, movidos pela curiosidade, tinham descido desde as suas casas, indiferentes à invernia.
Quando o dia clareou surgiu do estuário do rio uma velha canhoneira vomitando fumo pela alta chaminé, chapinhando as rodas laterais nas águas ainda agitadas da foz. Várias manobras de aproximação foram ensaiadas e outras tantas abortadas pelo perigo de um segundo naufrágio. Já a manhã estava avançada quando se avistou a sul um rolo de fumo que rapidamente se aproximou e fácil foi distinguir a silhueta baixa e forte de um rebocador saído a toda a máquina do porto de Viana.
O “Antinous” continuava bem preso no banco de areia, perdido no extenso areal da praia de Moledo a cerca de cento e cinquenta metros da linha de praia mar. Cabos foram lançados pelo rebocador, as manobras duraram toda a tarde e os resultados foram nulos. Ao cair da noite aproveitando um período de acalmia e a viragem da maré, um dos escaleres do navio foi areado e parte da tripulação remou vigorosamente até à praia onde foi recebida com manifestações de carinho pelos populares, que os presenteavam com abundantes porções de bagaço retemperador de frios e emoções.
Durante a noite, o “Antinous” abriu água à ré e de manhã o capitão deu ordem de embarque aos tripulantes que tinham ficado a bordo, depois de desligarem a máquina e ter arrecadado as papeladas do cofre. Desta vez não remaram para terra, mas ao encontro do “Rio Minho” a canhoneira da marinha, representante da autoridade no local, que abrigada pela penedia da Ínsua se mantinha vigilante.
Nessa noite o mar cresceu e na manhã seguinte as águas tingiram-se de amarelo quando o milho arrecadado nos porões rebentados se soltou e vogou ao sabor das correntes.
A Guarda-fiscal ainda tentou impedir o povo de carregar o milho que em vagas sucessivas salpicava a fina areia de Moledo. Em breve a mancha amarela invadia outras praias, Âncora, Afife e Montedor. Destas freguesias surgiam carros de bois e grupos de mulheres que, de cesto de vime à cabeça, gratavam as pérolas douradas que o mar oferecia.
O “Antinous” não mais saiu de Moledo. Foi-se enterrando na areia sempre em movimento no canal entre a ilha da Ínsua e o Bico da Ruiva. Enterrou-se até ficar apenas com a chaminé fora da mortalha arenosa. Onde outrora saía fumo, passaram a viver mexilhões, indiferentes ao passado metálico do alojamento.
Os náufragos foram repatriados e poucas semanas depois já navegavam em outros navios, em outros mares, com mais uma história para contar aos novos camaradas.
O povo que diligentemente tinha recolhido tantas arrobas de milho, amaldiçoou a hora em que tinham encetado tão árdua tarefa, pois o milho grelou e apodreceu depois do contacto prolongado com a água do mar.
Hoje em dia a chaminé do “Antinous” continua erguida, despontando na areia durante a baixa-mar, testemunha solitária e silenciosa, respeitada por pescadores e outros navegantes que se esforçam todos os dias por não errarem o rumo.
Fim







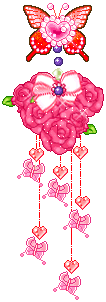


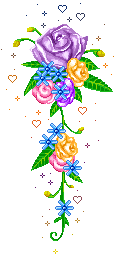


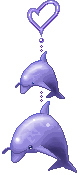

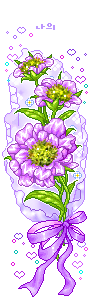
0 comentários:
Postar um comentário